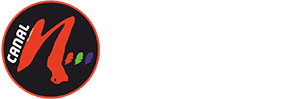Artigo de opinião escrito por Patrícia Freitas – mestranda em História Contemporânea e Bolseira de Investigação
Recupero, para iniciar este artigo, o título de uma das obras-primas de Nanni Balestrini, que significa “nós queremos tudo”. Balestrini ensinou-me muito sobre a Itália revolucionária das décadas de 1960 e 1970, sobre um operário da Fiat que se desdobra em luta contra o seu patrão, reivindicando salários mais altos e melhores condições de trabalho. Haru Kunzru classifica-o como um documento historiograficamente importante para compreender e interpretar as lutas laborais desta época, bem como toda a atmosfera revolucionária que se vivia dentro das fábricas e nas ruas. Serve de mote para as linhas que se seguem.
Os discursos mais conservadores, alinhados com o diagnóstico final segundo o qual o «fim da História» já se constituiu como realidade política contemporânea, tendem a romper qualquer afinidade que possam ter com o conceito de ideologia. Para eles, o tempo do fim das ideologias deve ser, se não um lugar definitivo dos sujeitos políticos, um objetivo a atingir de forma célere. Dessa forma, e para justificar o seu desapego a qualquer «utopia», opõem aos seus fetiches macroeconómicos as «amarras ideológicas» que condicionam qualquer tentativa de impulso progressista na sociedade.
Vemos isso, por exemplo, quando se discute sobre a natureza do Serviço Nacional de Saúde. A direita acusa a esquerda de não apoiar as Parcerias Público-Privadas por condicionantes ideológicas, remetendo para os representantes políticos a irresponsabilidade de não se abrirem novas possibilidades de funcionamento da saúde, em articulação com a iniciativa privada. Acontece que, recuando até 1979, ano em que a Assembleia votou o projeto de lei nº 157/1, sobre as Bases Gerais do Serviço Nacional de Saúde, também o PSD e o CDS votaram contra esse projeto, por este se apresentar como tendencialmente «universal e gratuito». Se esta reprovação não resultou das «amarras ideológicas», a verdade é que, anos mais tarde, na década de 90, o consulado cavaquista conseguiu que a lei de bases fosse alterada, prevendo que os cuidados de saúde pudessem ser articulados com o setor privado. Estará a direita refém da ideologia?
Mais paradigmático é o caso das greves, que a direita encara com certa desconfiança. Há tempos, um dirigente político de direita criticava mais um dia de greve na CP (Comboios de Portugal), referindo os constrangimentos que a paralisação causava na vida de centenas de pessoas que usufruem dos transportes públicos. O que não consta deste pensamento é precisamente o ponto nevrálgico das greves na CP: os trabalhadores têm esse direito, aliás constitucionalmente protegido, bem como têm poder para negociar, através das estruturas sindicais nas quais estão enquadrados, assuntos relativos aos seus salários. Afinal, há quem viva do seu salário.
Os exemplos que acabam de ser citados ilustram, de forma muito superficial, uma das dimensões do confronto que tem dominado o combate político na atualidade. O discurso segundo o qual as ideologias já não presidem às decisões políticas é manifestamente errado, tão sem sentido quanto os apelos à moderação e à cedência. Que a direita acredite que as lutas de classes não existem e que a sociedade pode funcionar como um corpo orgânico, à boa maneira corporativista, apregoando a «boa convivência entre patrões e operários», ainda se compreende, porque é uma herança pesada que cobre todo o espectro das direitas. O que não se compreende é que exija, com o seu paternalismo clássico, que a esquerda (sensata) se vergue à conformidade com o status quo vigente.
Claro que todos os séculos são palcos de disputas ideológicas; o nosso também o é. Com menos qualidade, é certo, porque se acredita que o confronto final entre as sociedades liberais capitalistas e a “alternativa” socialista ficou submerso na memória de 1991. Nesse sentido, o discurso desta direita que se considera liberal, progressista e modernizadora cai nessa armadilha, usando como armas de arremesso o «perigo vermelho», os tentáculos asfixiantes do Estado, entronando o falso conceito de liberdade. Conceito, aliás, com o qual as revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX sempre tiveram muita dificuldade em lidar.
A política não se faz só com cartazes e slogans. Faz-se com ideias, por isso é diferente ser-se político e ser-se alguém com ideias políticas. A direita não tem conseguido apresentar ideólogos, como já fez no passado. Apenas individualidades que se abstêm de problematizar a complexidade da sociedade com a qual não querem ter confrontos diretos, porque, no fundo, sabem que os conflitos de classe estão lá, vincados como já não estavam há muito tempo. Não ligam nem nunca ligaram às «utopias», sempre desprezaram os gritos de desespero dos que estão por baixo, e apelidam de «radical» a qualquer um que queira mudar o que quer que seja. Radicais de esquerda, radicais da extrema-esquerda, feministas radicais. Na verdade, etimologicamente, radical é alguém que vai à raiz. Seria assim tão mau ir à raiz dos problemas socioeconómicos para os resolver? A ideologia da direita, porque a tem, é o governo da burguesia, para a burguesia.
P.S. O termo extrema-esquerda perdeu todo o sentido nos dias de hoje e a «esquerda radical» ficou em 1977.