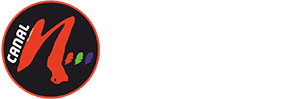Artigo de opinião escrito por José Mario Leite – Gestor Financeiro da Fundação Champalimaud
Naquele tempo é a tradução de um livro de Trindade Coelho (In illo tempore), escritor que, juntamente com Campos Monteiro, me encheu a alma, no início da minha juventude, por narrar histórias que aconteciam em terras que me eram muito familiares e com gente que eu quase conhecia.
Pois, naquele tempo, eu não sabia o nome de nenhuma das ruas de Moncorvo. Sabia como se chamavam alguns largos, a Praça, a Corredoura, o Jardim e outros locais como a Estação dos Comboios, a Igreja e o Castelo. E isso bastava para me orientar. Havia, na rua que ia da Praça para a Igreja, uma livraria onde comprava livros de aventuras e, sobretudo, de Banda desenhada. Ia depois para o largo do Castelo a fazer tempo. Sentava-me nas “escadinhas” do Campos Monteiro, quando o sol não apertava em demasia e ficava, com um olho nas artimanhas do “Mandrake” e outro na rua que, vindo da Estação, desembocava igualmente na Praça e por onde haveria de vir a carreira da Empresa Alfandeguense, com as suas barras vermelhas sobre o amarelo desmaiado do resto da carroçaria. Quando o sol aperrava muito refugiava-me nas arcadas dos Correios e aí, não dando muito jeito para ler pois se estivesse sentado perdia horizonte visual que era essencial para saber quando chegava a camioneta. Tinha de estar atento pois quando o senhor Américo fechava a porta do veículo, já não havia nada a fazer. O condutor arrancava e quem não estava, estivesse. Nunca soube o nome de nenhum dos condutores. Nem conhecia ninguém que o soubesse. Mas o senhor Américo era conhecido por todos e devia ser quem mandava nas carreiras. Com o seu boné de revisor, o lápis pendurado na orelha, a mala de couro a tiracolo, de onde saía, lesto, o livrinho de bilhetes (que eu tantas vezes tentei, em vão, replicar, quando brincava no autocarro de fingir, na Cortinha à frente da minha casa, na Junqueira) e o alicate que validava e inutilizava o título de transporte, era quem abria e fechava todas as portas do veículo, a de entrada e saída de passageiros e a de entrada e saída de mercadorias. E era também ele, coisa relevante, quem entregava as malas de correio, nas diferentes povoações por onde se passava.
Nos curtos dias de inverno já não dava para ler e eu subia os patamares e encostava-me à coluna onde repousava o busto de Campos Monteiro atento ao trânsito da rua em frente. Às vezes distraía-me com as manobras dos camiões que vinham do Pocinho e que entravam na Praça, quase a tocarem nas esquinas da tal rua que vinha da Igreja e também do Jardim onde, quando havia tempo, ia dar um passeio e aproveitar a sombra que batia, provisoriamente, nos bancos de pedra, muito perfeita, muito retilínea, como não vira em outro lugar, meu conhecido, até então. Outras vezes ficava a olhar para as árvores que se acotovelavam pela encosta acima do Roboredo cujo nome alguma coisa haveria de ter com o rubor que o sol, ao pôr-se ali derramava e que se confundia, nas clareiras, com a vermelhidão do solo que, ao que soubera, era rico em ferro. Ferro que, pensava eu, haveria de ser cinzento acastanhado e não vermelho. Vermelha era a ferrugem, mas provavelmente eu é que estaria errado mesmo que não visse como e por isso me custasse tanto a admiti-lo. De vez em quando sentia o “bafo” do escritor, na nuca. Virava-me assustado mas, afinal, era só a brisa que, vinda do Sabor, se esgueirava por entre os edifícios, em direção à Serra. Quem diz do Sabor, diz da Vilariça de onde eu vinha e que, parecendo ser por pouco, afinal era por muito que ambos, rio e vale, estavam ligados. Aparentemente mal se encontram, fina-se um e o outro entrega-se ao seu irmão mais velho, o Douro. Uma espécie de Noivado no Sepulcro, de Soares dos Passos, outro poeta que, literalmente, marcou os meus primeiros passos literários. Tal como no poema referido também o encontro mais íntimo entre Sabor e Vilariça se faz sob o manto da morte e da destruição. Assim no-lo contou, soberbamente o autor de Ares da Minha Serra, assim pude, horrorizado, contemplar, numa das últimas Rebofas que tendo enriquecido a veiga, ao longo de milénios, igualmente a destruía quando o Douro, enraivecido e truculento, repelia as águas lamacentas do Sabor, atirando-as para o leito da falha tectónica que separa os montes da Cardanha e Adeganha dos da Lousa, Cabeça Boa e Cabeça de Mouro. Foi a descrição hiper-realista do escritor, transcrita no meu livro de leitura do primeiro ano do secundário que me fez apaixonar pela escrita do homem cuja cabeça ali repousava serena, majestosa, impondo respeito e circunspeção a quem se aproximava. Há quem goste mais da belíssima descrição feita igualmente por ele no poema “Em Viagem” e publicado nos seus “Versos fora de Moda” e eu também apreciava muito as belíssimas imagens da terra onde nasci e que aprendi a ver, viver e compreender, mas era maior a admiração, maior o encanto, maior a empatia com a descrição prosaica do horror, da destruição e da tragédia porque melhor espelhava a vida dura, sofrida e dramática das gentes do campo daquela altura.
Noutras alturas não pensava em nada e ficava ali, sentado a olhar a serra na esperança de descobrir, por entre a folhagem do arvoredo, a figura triste de João Caramês a puxar o seu burro pela arreata.
Com o passar do tempo deixei de ir à tal livraria/papelaria junto à Praça em frente de uma loja onde se vendia fruta e legumes, alguns trazidos da Junqueira, que eu bem os conhecia, e passei a frequentar a Papelaria do senhor Cardanha, que o meu pai me recomendara por o considerar muito. Recentemente o dono da Papelaria Clássica garantiu-me que a consideração era mútua. Nessa altura já não esperava pela carreira da Empresa Alfandeguense porque me transportava, de forma autónoma numa motorizada de 50 cm3 Famel Zundapp que ficou célebre entre alguns dos meus amigos por aventuras que não têm cabimento nestas recordações. Ia menos ao Largo do Castelo mas igualmente tinha este a sua relevância pois para me poder deslocar tranquilamente e sem receio de ser importunado pelas autoridades, tive de tirar a carta de mota que, naquele tempo, era passada na Câmara Municipal. Ora, para além da prova oral demonstrativa de conhecimentos básicos como algumas regras de trânsito e reconhecimento dos sinais rodoviários que ilustravam todas as agendas de bolso de então, era necessário fazer uma prova de perícia precisamente no terreiro em frente dos Passos do Concelho para que a mesma pudesse ser observada e avaliada a partir do pequeno balcão por cima da entrada principal, ou da janela lateral, já não me lembro bem. Lembro-me, perfeitamente que do exame prático fazia parte a execução perfeita de um oito em que, obviamente, pelo menos para mim, foi assim, uma das circunferências era feita à volta do busto do poeta. Não se podia poisar o pé no chão. A coisa não começou muito bem porque apesar de eu ter já várias horas de tirocínio, nas ruas nuas, poeirentas ou enlameadas , conforme a estação do ano, da Junqueira, os nervos não me deixavam mostrar o melhor que sabia fazer. Era, tinham-me dito, melhor começar no canto e terminar à volta do busto porque assim ficava a volta maior para o fim e dava maior largueza e tranquilidade. Mas eu atrapalhei-me e, mal arranquei, não consegui curvar seguindo em frente até que perto da estátua, já mais descontraído, comecei a virar à volta do monumento. A coisa endireitou-se e eu olhei, de soslaio para o varandim, para me certificar que estava a ser observado. Foi nessa altura que vi, juro, o Campos Monteiro a acenar com a cabeça e foi o que me salvou. Completei a primeira volta e, mesmo apertada, fiz a segunda, em contravolta, na perfeição. Para rematar ainda dei mais uma volta para retribuir o cumprimento ao poeta. A partir desse dia aumentou o meu penhor pois para além das riquíssimas descrições da minha Vilariça, igualmente lhe era creditada um valioso contributo na obtenção da licença para as viagens mais frequentes à vila, os passeios pela aldeias vizinhas, em tempos de romaria, as aventuras em todo o terreno pelos caminhos rurais da veiga ou das encostas adjacentes, alguns “peões” e “cavalinhos”. Algumas quedas ficaram-se a dever exclusivamente à minha aselhice e pouca perícia, nada tinham a ver com a conta corrente do senhor do Largo dos Correios.
É bem provável que, passadas dezenas de anos, quando esporadicamente ia registar uma carta ou levantar uma encomenda ou, com maior regularidade me deslocava ao salão nobre, primeiro para participar, enquanto vereador nas Reuniões de Câmara e, mais tarde, para presidir à Assembleia Municipal, tenha adquirido o hábito de passar em frente de Abílio Adriano Campos Monteiro e com um breve aceno de cabeça, cumprimentá-lo, por respeito para com a sua figura tutelar do concelho e de todos os moncorvenses de bem, mas, provavelmente, por egoísta ato de recordação, saudade e nostalgia dos sonhos e devaneios ali ocorridos desde há mais de cinco décadas a esta parte.
Campos Monteiro foi apeado, o seu pedestal foi rebaixado, a sua figura imponente e solene foi encafuada entre dois bancos macambúzios e despersonalizados de pau e mergulhado para baixo das ramagens de inexpressivos e vulgares plátanos, ao mesmo tempo que a sua mais significativa bibliografia foi exposta ao nível do solo onde é pisada por quem passa, suja pela poeira e pela lama, desconsiderada pelas aves que poisam nas ramagens vizinhas e pelos canídeos que livremente ou sob trela percorrem o empedrado.
Evito subir ou descer as monumentais escadas da muralha do castelo.
Naquele tempo eu não sabia que a homenagem singela, mas nobre, elegante, elevada e distinta que lhe fora feita era obra da gente honrada de Moncorvo, agradecida, reconhecida, orgulhosa e envaidecida. Sabia apenas que o preito que lhe fora feito era devido a que acrescentava a minha admiração e reconhecimento. Ignorava, então e durante todo este tempo que era possível desfazer todos os esses sonhos, todas essas homenagens, todos esses tributos com um gesto autocrático, sem razão nem perdão, sem suporte nem justificação, sem sustentação nem legitimidade. Constatada a rudeza, a ignomínia e a afronta, resta-me, como, felizmente, a muitos concidadãos, honestos e penhorados, o protesto claro, límpido e cristalino.
Estou certo da ilegalidade da atuação, decidida às escondidas, programada à socapa e executada de noite, em tempos de severo recolhimento e não imagino que qualquer tribunal que age em nome do povo possa impor ao povo, em nome de quem age, tão flagrante ato da mais pura injustiça porque é feito contra a sua vontade expressa, na génese e ao longo de todo o tempo e mesmo agora, apesar dos constrangimentos impostos por quem detém as rédeas do poder. Mas se porventura os homens não forem capazes de executar o ato mais linear da mais pura justiça, a memória dos homens, a avaliação do tempo e da história, não perdoará.
Pouco conto, sei bem, mas na minha pequenez, ninguém poderá fazer-me entender, muito menos justificar qual a razão que assiste a alguém, por mero autismo, por simples pirraça, para demonstrar que querendo podia e mandava, e assim destruir, delapidar, obliterar algo de tão precioso que guardo, da minha juventude: os sonhos e devaneios de tardes, em Moncorvo, na companhia sublime e respeitada do seu maior vulto literário, confortado pelo vento da Vilariça, vendo os raios do sol poente, a doirarem as copas das árvores do Roboredo!