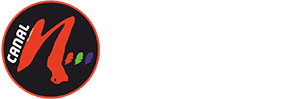Artigo de opinião escrito por Patrícia Freitas – estudante de História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
“Dai ao povo o que é do povo
pois o mar não tem patrões.
– Não havia estado novo
nos poemas de Camões!”
Foi assim que Ary dos Santos descreveu Abril. Ousado nas palavras, soube cantar e elevar o sentimento revolucionário através da sua poesia de intervenção. Falar da revolução de Abril não é tarefa fácil, ainda que todos nós sintamos o impulso de o fazer, sobretudo quando a data se aproxima. Recorrer à poesia é sempre uma boa opção.
Falar sobre o 25 de Abril é fazer um exercício de desconstrução do processo histórico que nos trouxe até ao regime político que conhecemos hoje: a democracia. Mas, sendo já a democracia um lugar-comum do nosso quotidiano, o que representa para nós, herdeiros das lutas dos que a tornaram possível? Estaremos genuinamente gratos aos que foram presos, torturados, condenados ao exílio, mortos, para que hoje alguns possam arrastar vergonhosamente o projeto democrático pelo chão? Eis outro exercício de pensamento individual que todos devemos fazer. A reflexão sobre estas questões é indissociável de pensar a revolução de Abril como um momento de viragem, talvez o mais importante da história contemporânea portuguesa.
Não deixa de ser curiosa a coabitação temporal da revolução dos cravos no contexto internacional; a revolução de Abril foi contemporânea da Unidad Popular Chilena, do Programa Comum da esquerda francesa, da crise de Watergate e da derrota americana no Vietname. Uma revolução claramente integrada nos movimentos progressistas que se seguiram a Maio de 68. Assumindo a máxima responsabilidade no processo revolucionário, o MFA foi um agente fundamental para a mudança de regime. Por sua vez, os partidos políticos (desde a esquerda radical de tendência maoísta ao PPD), os sindicatos e outras instituições tradicionais como a Igreja, influenciaram o processo político que se viria a desenvolver. Estes núcleos de poder existiam durante a revolução, ainda que com uma distribuição espacial bem controversa: a profunda oposição entre o norte e o sul do país e as respetivas posições em relação à revolução. A sul do Tejo, o desgaste evidente da tradição do latifúndio foi um incentivo à união dos trabalhadores camponeses em prol da luta pela posse da terra: “a terra é de quem a trabalha” era uma frase que se ouvia regularmente em manifestações nas cidades de Évora e Beja. Em março de 1975, assiste-se à nacionalização de alguns grupos económicos e à ocupação de terras. No norte, o panorama é outro. A resistência à revolução é maior, nomeadamente a das elites mais conservadoras e da Igreja. A direita opõe-se claramente ao processo revolucionário, como se virá a provar, definitivamente, com os acontecimentos do 25 de novembro.
Ainda que houvesse estas divergências estruturais que, aliás, ainda hoje se revelam caricaturais dos projetos políticos mais recentes, a transição democrática (alguns historiadores têm reservas quanto à utilização deste termo, preferindo falar de ruptura) foi possível através do derrube das elites políticas de um regime autoritário que já não tinha condições para continuar. O sistema ditatorial colapsado deu lugar a uma nova organização económica, com mudanças fundamentais na estrutura da propriedade. A nova cultura ideológica, baseada nos princípios do antifascismo, do antiautoritarismo, da plena liberdade individual e coletiva, assumiu a sua posição hegemónica no seio de uma sociedade cada vez mais reivindicativa dos valores socialistas. As lutas anticoloniais assumiram um papel de relevo durante todo este processo. A guerra levada a cabo pelo Estado Novo não só enfraqueceu a economia e a moral nacionais, como também arrastou os territórios colonizados para uma situação de instabilidade política e social que ainda hoje se fazem sentir.
A espinha dorsal deste regime autoritário foi, de facto, a sua capacidade repressiva. Para muitos de nós, o conhecimento da censura é apenas o resultado das memórias de quem foi vítima dela. Sentimo-nos comovidos e rapidamente agradecemos pela tolerância que, entretanto, nos entrou pela casa dentro. Não fomos obrigados a esconder a nossa orientação política, não fomos expulsos do nosso país porque pensávamos de maneira diferente. No entanto, hoje, somos capazes de normalizar grupos pouco democráticos, o seu discurso, as suas incoerências. O perigo é evidente e as eleições francesas são, a título de exemplo, uma demonstração dessa ingratidão. Nós, por cá, temos o dever de não regularizar o pensamento autoritário nem mais uma vez. E é por isso que Abril tem que ser todos os dias da nossa vida.