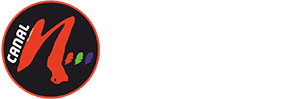Artigo de opinião escrito por Patrícia Freitas – mestranda em História Contemporânea e Bolseira de Investigação
Os nossos tempos são especialmente profícuos no que diz respeito à disseminação de toda uma panóplia de pensamentos que, em última análise, surgem numa tremenda desarticulação com a realidade. Os motivos são incontáveis, mas talvez os mais imediatos sejam a falta de conhecimento histórico e alguma incapacidade de pôr em prática aquilo a que Foucault chamava de “arqueologia do saber”: de uma forma simplista, inspirarmo-nos no trabalho dos arqueólogos e escavar o máximo possível, até chegar à origem das coisas. Nesse sentido, sobretudo no campo deserto do combate político, nota-se uma tendência para o branqueamento das responsabilidades, para uma seletividade factual cujo propósito é justificar um determinado ponto de vista, sem que se crie espaço para grandes especulações que possam pôr em causa um pensamento claramente hegemónico.
Quando se fala dos grandes problemas nacionais, a direita explora o domínio temporal dos “últimos vinte anos”, afirmando que foi o PS quem governou mais tempo, imputando-lhe a culpa do atraso, da estagnação, da falta de visão para o país. Mas, porque a História não se fez nos últimos vinte anos, recuemos mais umas décadas, contando a partir da tomada de posse do I Governo Constitucional, em 1976, liderado por Mário Soares (PS), governo que durou apenas uns meses. O II Governo Constitucional, resultante de um acordo de incidência parlamentar entre PS e CDS também não tardou muito a desabar. O III Governo, que constitui um dos estranhos casos da história constitucional ainda por estudar, resultou da iniciativa presidencial por parte de Ramalho Eanes. Ocupou o cargo de Primeiro-Ministro Alfredo Nobre da Costa, sem ligação a nenhum partido, mas cedo se revelou incapaz de governar. Sucede-lhe Carlos Mota Pinto, do PSD, chefiando assim o IV Governo Constitucional. Nestes percursos marcadamente patriarcais, surge, enfim, uma mulher, Maria de Lurdes Pintassilgo, a única a ocupar este cargo até aos nossos dias, mais ligada ao PS, ainda que tivesse sido apoiante do PRD. Os VI, VII e VIII Governos são formados pela coligação entre PSD, CDS e PPM, com as chefias de Francisco Sá-Carneiro e Francisco Pinto Balsemão. Mantendo a dinâmica, o IX Governo resulta de um acordo de incidência parlamentar entre o “centrão”, PS e PSD, sendo liderado por Mário Soares. Seguem-se o X, XI e XII Governos, liderados por Aníbal Cavaco Silva. O XIII e XIV iniciam-se com António Guterres, sendo que o XV retoma a coligação entre PSD e CDS, sob a liderança de Durão Barroso que, mais tarde, rumaria até à Comissão Europeia, deixando Jorge Sampaio com a tarefa de nomear Pedro Santana Lopes para o substituir. Os XVII e XVIII Governos, agora considerados pela direita para justificar o tal “atraso” foram liderados por José Sócrates e o resto já sabemos. Pedro Passos Coelho governará até 2015, ano em que o PS estabelece um acordo de incidência parlamentar com o BE e o PCP, até à maioria absoluta do PS, em 2019.
Ora, esta análise não envolve uma matemática muito complexa. Podemos concluir que o PS e o PSD são os dois grandes partidos do “arco da governação”, sendo que o PS esteve presente em dez governos e o PSD em treze. Esta análise revela-se, no entanto, contraproducente, porque se foca apenas numa metodologia essencialmente quantitativa, desprezando os pilares que realmente interessam: a comparação entre as políticas adotadas em cada governo, bem como as semelhanças ou diferenças que as unem ou separam.
Uma primeira síntese foca-se, sobretudo, nos resultados globais e macroeconómicos. Uma das questões centrais que normalmente merece destaque em cenários de crise, mas também um indicador do bem estar económico, é a dívida pública. A primeira década de 2000 regista um aumento da dívida pública, passando de 50,7, em 2000, para 68,4 por cento do PIB em 2007. Em 2012, a dívida pública ultrapassava os 100 por centro do PIB. Outro dado que é relevante tem a ver com a diminuição do emprego industrial, ou melhor, do “processo de desindustrialização”, que revela bem as consequências do caminho que tem vindo a ser trilhado na destruição do setor produtivo do país. Em 1977, 24,6 por centro do total do trabalho era na indústria, sendo que, em 2010, o valor era de 15,4 por cento. É evidente que só um trabalho sistemático (eles até já existem), equivalente a duas ou três teses de doutoramento, poderia oferecer um quadro mais satisfatório sobre as razões do nosso isolamento, bem como do progressivo afastamento dos governos centrais perante as regiões mais periféricas do país. No essencial, podemos afirmar que houve uma convergência entre os dois partidos maioritários no que diz respeito à integração europeia, às privatizações dos setores estratégicos da economia portuguesa, ao desinvestimento nos serviços públicos, à submissão a Bruxelas.
O que sobra? Uma economia de baixa pressão salarial, incapaz de competir com outros países europeus que estão muito mais à frente. Um país onde as disparidades entre Norte e Sul ainda são visíveis, sobretudo no que diz respeito à fruição cultural; onde as disparidades entre interior e litoral são ainda mais marcantes, porque criticar a desertificação é fácil, mas combatê-la não é. Talvez o IRS jovem resolva o problema.
Quem promove o subdesenvolvimento da nossa região?
Em 1992, o Complexo Agroindustrial do Cachão declarava falência, depois de anos de agonia e de um parto, já de si, difícil. Num contexto de “modernização autoritária”, empreendida pelo regime salazarista ao longo de 1960, para contrariar aquilo que, durante as décadas precedentes, tinha sido a sua política de condicionamento industrial, em que os focos industriais existentes estavam nas mãos de um punhado de monopolistas que evitavam o desenvolvimento do país. Tendo nascido em condições precárias (mas também graças aos dinheiros públicos e não por uma obra messiânica), num contexto nacional de níveis de emigração nunca vistos, o Complexo apresenta-se como um motor de desenvolvimento regional e local, a par da Linha da Tua.
Curiosamente, o troço ferroviário que ligava Mirandela a Bragança também encerrou em 1991, ano de governo cavaquista. No entanto, ainda em 1984, durante um dos governos de Mário Soares, entrou em vigor o Regime Simplificado de Exploração. O Plano de Modernização e Reconversão de Caminhos de Ferro Portugueses, aprovado em 1988 (Cavaco Silva), determinava o encerramento das linhas da CP consideradas como secundárias (linhas de tráfego reduzido). O que pensamos nós, hoje, sobre estas linhas de tráfego reduzido? Que é uma ideia disparatada, e que votou ao abandono uma região inteira. No entanto, são as mesmas pessoas que promoveram estas políticas que, hoje, falam sobre descentralização e regionalização. Será que foi sempre esse o objetivo?
Ouvir agora as teorias que pregam um programa quase desenvolvimentista é, no mínimo, aterrador. Sobretudo porque as opções políticas dos últimos quarenta e oito anos têm convergido num único sentido: o da mercantilização dos serviços que, em última instância, radica numa agenda neoliberal que está a ser aplicada com todo o vigor por governos de centro-esquerda, de centro ou de centro-direita, conforme o que lhe quiserem chamar. Enquanto não se alterar esta trajetória, não vai ser possível voltar a investir em regiões que têm estado completamente à mercê de visões de futuro voláteis, sujeitas aos interesses privados de quem tem poder de decisão. E isso não se fará, certamente, com a direita, nem com um PS refém dos interesses económicos.
Relativamente ao caso concreto do concelho de Mirandela, a sua caracterização política não é difícil de fazer, atendendo aos resultados das eleições autárquicas. À exceção do mandato 1976-1979 e 1989-1993, anos em que o CDS foi vencedor, os restantes conferiram amplas vitórias ao PSD. Sociologicamente, é um concelho de direita, e muitos elementos históricos (que não serão aqui desenvolvidos) ajudam a compreender esse fator. Nesse sentido, não vale a pena tentarmos recuar agora aos “vinte anos anteriores” e culpar o PS por todos os males do presente. Em bom rigor, as políticas locais foram integralmente condicionadas pela direita, CDS e PSD, sendo que apenas a partir de 2017 se alterou esse caminho. Por um lado, essas políticas revestiram-se de uma aparência saudável, no curto prazo, com ganhos imediatos para alguns setores sociais específicos. Por outro, desprezaram o sentido estrutural que deve ser equacionado em qualquer tomada de decisão que envolva políticas públicas. Evidentemente que a influência dos governos centrais não pode ser menosprezada, mas já que se fala tanto na “pressão” que os governantes locais devem exercer junto de Lisboa, por que razão não se pressionou o suficiente nas décadas anteriores?
Até agora, lembramo-nos do Cachão, da ferrovia, da maternidade, da extinção da delegação da Direção Geral do Território, em Mirandela, do encerramento de escolas em diversas aldeias do concelho, do encerramento da urgência cirúrgica, de uma mobilidade rodoviária insuficiente entre as aldeias e a cidade, da tardia aceitação do ensino superior no concelho, da ausência de espaços de fruição cultural e desportiva, entre outras. Será sensato afirmar que a culpa é, em grande parte, dos socialistas? Parece-me que o inverso é mais coerente. Ou, melhor ainda, reparta-se a culpa: entre PS e PSD, com ajuda do CDS, o subdesenvolvimento nunca deixou de estar na ordem do dia.