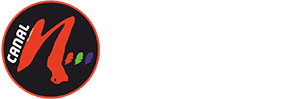Por: Miguel Gomes – Escritor
O largo da Feira ostenta o cinzento reflectido do céu diurno de um qualquer dia invernal, as pequenas cestas alvas evocativas dos tremoceiros contrastam com o vermelho valentinal de uma sexta-feira, poderia ser doutra maneira?, os carros estacionam sobre o cimento partido e as frestas por onde respira a terra rangem como se o dia fosse uma porta velha, forrada a zinco numa imaculada portada onde o tempo fez um vinco.
A ameia do restaurante onde, quase relutante, experimento sabores e sorrio com a aventura de duas sexagenárias a fotografarem a comida, o vinho, o espaço e elas mesmas, concede-me ali mesmo, ao parapeito da emoção, visualizar no à vontade de quem não se prende pelos candelabros, do tecto e do texto, porque a vida é ela mesma um palimpsesto, um quadro vago ou o vime gasto e cego do tremoço para o seu cesto.
A atravessar a praça, passo firme sem opulência, por entre olhares dos que se rodeiam dos bocados invisíveis erguidos a vestes de um rei nu num labirinto de desdém, um trolha segue sorrindo, uma mão no bolso do casaco negro, a outra segurando, direita, cuidadosamente, uma rosa vermelha, o chapéu azul de uma marca esbatida, as calças caiadas e esburacadas por onde respiram a dignidade e simplicidade, caem sobre as botas de trabalho que parecem amaciar o solo que pisam, cobertas de tinta que se desprende a cada passada volvida, na praça, na vida. Segue, mãos nos bolsos, a sorrir. Ah, a vida é tanto do porvir!
O funcionário do restaurante rouba-me a atenção, respondo apressadamente acima da indecisão e volto-me, outra vez, para a praça, mas já não o vi. No chão, começando a desaparecer devido aos pingos de chuva que o céu deixou vir ver, pequenas pegadas de tinta ou nuvens de uma paixão sem cor. Não será isto o amor?