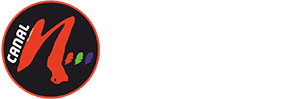Artigo de opinião de Elói Gouveia Santos – Responsável de Comunicação Empresa Pública Municipal
Confesso que, por mais que tente, não consigo recordar a voz da minha avó. Lembro apenas algumas histórias que se vão tornando cada vez mais longínquas e dispersas. Com o desvanecer dessas histórias a memória vai desaparecendo, devagar, devagarinho, até morrer. A erosão chega até para os lugares. Sobretudo os inabitados. E aquele cantinho, arrecadação da memória, vai aguentando estoicamente as lembranças.
No meu caso, aquele bocadinho existe entre quatro paredes no lugar das Mós do Douro – belíssimo, por sinal- e é o guardião do que foi e não voltará a ser. Não voltarão ali a fazer-se alheiras nem a partir amêndoa. O queijo não será curado nas tabuinhas de madeira.
Tudo está fadado a inexistir num momento que esperamos mais ou menos longínquo. Assim funciona com as pessoas, com os lugares e com os objetos.
Os meus avós nunca saíram do pais, nem sequer para ir a Espanha comprar caramelos. Seria gente com menos quilómetros mas com mais mundo. Viram o seu mundo de uma maneira menos dispersa. Dentro de duas gerações, se existirem fronteiras, parecerá aos vindouros que não ir ali ao lado, a Madrid, é uma mentira ou piada.
Os velhos queixam-se de dores e cheiram a velho mesmo no meio de um quarto limpo. Contam as mesmas histórias vezes sem conta e, pasmem-se, custam dinheiro à segurança social. Visitar um lar é, se tudo correr bem, uma viagem ao futuro. É uma visão triste a que temos diante dos olhos, mais do que isso: entristecedora. Encerra em si uma espécie de ameaça silenciosa: um dia serás TU o depositado.
Os lares sempre me pareceram depósitos de velhos. Estão (para) ali sentados ou deitados, juntos numa amálgama relativamente silenciosa a ver televisão com o volume no máximo. São alimentados de comidas sensaboronas, muitas vezes pela mão de assistentes.
A palavra “idoso” encerra em si uma certa dose de comiseração como se fosse um analgésico para descrever a situação tal e qual ela é.
Recordar é uma arte. É necessário recordar o que verdadeiramente vale(u) a pena.
Todos os dias se perdem histórias. Porque se calam aqueles que as podiam contar ou porque as silencia o esquecimento.
Portugal é um país antigo que todos os dias se vai, lentamente, modificando. Não se aplica neste caso o adjetivo “velho” porque os países conseguem (?) aguentar mais do que os humanos. A morte de um país acontece quando as suas histórias deixam de ser contadas. De acordo com esta ideia, a Grécia Antiga ou a Mesopotâmia não desapareceram. Tão pouco desapareceu a Biblioteca de Alexandria. Nasceu uma outra em seu lugar que evoca a antiga e a homenageia.
Só a memória é imortalizada. Nem só de brasões e monumentos vive a identidade. De cada vez que num restaurante há arroz-doce, a minha avó revive, porque o meu pensamento viaja à velocidade da luz para a mesa com uma toalha de renda em que essa sobremesa era pousada.
O digital, o teletrabalho, a globalização e tantos outros produtos de um século que será de mudanças, prometem deixar ficar para trás o passado, “entre as brumas da memória”.
Que histórias pode contar a desertificação? Vê-se amiúde, geralmente aos domingos à tarde, o interior do país em forma de caricatura. Não é que seja depreciativo… mas soa a artificial e a pouco. É claro que seria ótimo que o interior pudesse contar novos contos. Mas para isso seria preciso o que muito falta: gente. Não poderia o interior ser promotor de qualidade de vida? Se sim, como? O turismo é uma das portas. Mas são precisas mais ideias para revitalizar e para atirar para as catacumbas do esquecimento o problema não resolvido das assimetrias regionais.
Em 2021 faz 40 anos desde que foi editada a viagem a Portugal, de José Saramago. Que país encontraria ele se calcorreasse esses mesmos caminhos, que começaram em Miranda do Douro com um diálogo de peixes? Talvez por lá encontrasse os netos desses mesmo peixes, que nos contariam o quanto mudou o seu mundo. Ou talvez não.
É mais difícil saber para onde queremos ir se não soubermos de onde vimos.