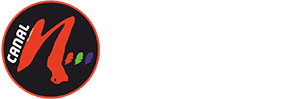Artigo escrito por Patrícia Freitas – Docente de História e Mestranda em História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
O debate que atravessa a sociedade portuguesa em torno das comemorações do 25 de Abril e do 25 de Novembro ainda não atingiu o ponto de ebulição, mas já faltou mais. Episódios, de resto, típicos de sociedades que se encontram em processos de transformação; no caso português, estamos perante uma possibilidade evidente de viragem à direita, uma direita em crise, que já há muito tempo apresenta a sua face mais conservadora e reacionária. Tradicionalmente, é essa mesma direita que se arroga como juíza da História sempre que se empunham cravos vermelhos para «celebrar» a Revolução.
Em primeiro lugar, uma direita que está de luto desde Abril de 1974 e que, à sombra dos discursos dominantes e hegemónicos que se produzem em torno do complexo processo revolucionário português, reivindica para si o monopólio da «normalização democrática». Também o Partido Socialista, ainda que no espectro político seja mais difícil de localizar, se apressa a autodenominar-se como «partido da democracia», numa clara tentativa de relativizar a hegemonia do PCP como partido de resistência antifascista. Tanto o PS como a direita reacionária disputam o lugar de «pais da democracia».
As leituras que se têm feito do chamado PREC (Processo Revolucionário em Curso) são marcadamente antirrevolucionárias. Basta percorrer os discursos políticos das últimas décadas. Encarado como um período de «excessos» e «abusos» onde a ordem e a disciplina se secundarizavam em prol do ímpeto revolucionário, sobretudo a partir do golpe fracassado de 11 de Março de 1975, o processo revolucionário foi, para muitos, um momento em que «a vida quase se cumpriu». Certos setores insistem em varrer para debaixo do tapete algumas evidências que marcaram este período. Nomeadamente, a respeito da condenação dos «abusos» e «excessos», nunca é mencionada a vaga de mobilizações anticomunistas que tomaram conta do «Verão Quente» de 1975. Mobilizações que, além de populares, foram também políticas, com a conivência e estreita colaboração de amplos setores da hierarquia eclesiástica.
No fundo, a Revolução e o processo revolucionário que se lhe seguiu foram os grandes momentos de transformação social e económica. O caso mais paradigmático foram as nacionalizações. Em relação a este assunto, Manuel Loff afirma que “três meses antes do 11 de Março, portanto, o PS reiterava todo o programa de nacionalizações que já propusera em 1973” e que “o I Congresso do PPD, realizado quatro meses antes do 11 de Março (novembro de 1974), consagraria a opção de Sá Carneiro por «um forte alargamento do setor público […] visando pôr fim a toda a espécie de monopólios privados, condição necessária para assegurar o efetivo controlo do poder económico pelo poder político democraticamente constituído»” (LOFF, 2022: 83-64). O que podemos constatar, a partir daqui, é que tanto o PS como o PPD tinham nos seus programas elementos integrantes daquilo a que poderíamos chamar de «projetos socialistas» para o país. Já para não falar da ambiguidade ideológica da qual o PPD nunca se conseguiu separar durante este período, havendo autores que consideram mesmo o «seguidismo» dos sociais-democratas em relação aos socialistas.
Também no panorama social se verificou um intenso combate pelo efetivo controlo de alguns meios de produção pelos trabalhadores. Desde ocupações de empresas que adotariam o sistema autogestionário, até às ocupações de terras no Ribatejo e no Alentejo, passando ainda pela criação das comissões de moradores. Tudo isto fez parte de uma ambição coletiva e de uma consciente perceção de que, naquele momento, havia condições para mudar alguma coisa.
Retomando o título deste ensaio, José Mário Branco fala-nos da vingança do mês de Novembro, esse mês que permanece meio vivo meio morto no imaginário da direita portuguesa e ao qual recorre sempre que precisa de fazer regredir qualquer avanço mais democratizador. Será, ainda assim, um discurso intemporal, adaptável aos tempos, mas com traços cada vez mais autoritários e conservadores, amarrados à narrativa neoliberal que agora até se invoca representante das aspirações dos trabalhadores. E é curioso que, encontrando-nos em processo de comemoração dos 50 Anos da Revolução, se levante, mais uma vez, a bandeira do 25 de Novembro e da «normalização» da vida dos portugueses, como se o momento de rutura que foi a Revolução tivesse sido um tempo de «anormalidade». Cumpre-nos dizer, ao arrepio desta suposta legitimidade, que Novembro significa, de facto, o triunfo da contrarrevolução, apesar de muitas conquistas revolucionárias terem ocorrido já ao longo do ano de 1976.
Deste lado, celebrar o 25 de Novembro significa, por um lado, a perpetuação de uma ideia contrária ao sentido revolucionário do 25 de Abril como momento de rutura com o regime fascista e, por outro, um impulso perverso rumo ao esquecimento de todos e todas que ousaram lutar pela liberdade.
LOFF, Manuel (2022) – “A revolução, do 11 de março ao 25 de novembro: impulso, auge e reflexo”. In ROSAS, Fernando – A Revolução Portuguesa 1974-1976. Lisboa: Tinta da China, p. 75-120.